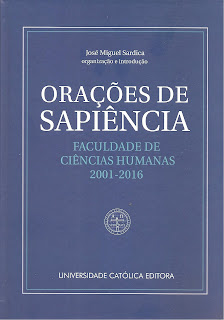Textos de Rogério Santos, com reflexões e atualidade sobre indústrias culturais (imprensa, rádio, televisão, internet, cinema, videojogos, música, livros, centros comerciais) e criativas (museus, exposições, teatro, espetáculos). Na blogosfera desde 2002.
sexta-feira, 30 de setembro de 2016
Museu Etnográfico de Alvor
O Museu Etnográfico da Santa Casa da Misericórdia de Alvor procura ser um repositório de atividades e tradições daquela freguesia de Portimão, em especial as dedicadas ao mar e à terra (sem referências ao turismo). De entre as profissões, destaques para o mariscador, o taberneiro, o peixeiro, o professor e o barbeiro.
quarta-feira, 28 de setembro de 2016
Livro de Gonçalo Pereira Rosa
Hoje, ao final da tarde, no Museu da Farmácia (Lisboa), o livro de Gonçalo Pereira Rosa A Gripe e o Naufrágio. Como as Notícias Representam os Riscos foi apresentado por António Granado (Universidade Nova de Lisboa). A base é a tese de doutoramento defendida no ISCTE em 2013, então intitulada Os novos riscos nas notícias. A construção social do naufrágio do Prestige e da pandemia de gripe A. O livro procura "avaliar processos de construção do risco nas sociedades contemporâneas. Colocados perante problemas cuja complexidade e terminologia nem sempre dominam, os agentes sociais procuram integrar os riscos emergentes no seu quotidiano" (p. 13).
A obra agora lançada está dividida em cinco capítulos (Risco nas notícias, Projeto, Naufrágio do Prestige, Pandemia de gripe A, Conclusão). Aqui, fico pela análise aos subtítulos do índice, de onde retiro ideias e conceitos como uniformidade das vozes periciais, falhas de coesão entre especialistas, aceitação de interlocutores, semântica do pânico, conhecimento acumulado sobre a cobertura de acidentes, lições de uma pandemia, faces do acontecimento, imagem como metáfora da notícia, numeralização ou rotinização do acidente, responsabilização e gestão da comunicação, difícil assimilação da correção de expectativas. Por aqui, se vê a densidade do texto.
O autor combina a boa escrita (ele é jornalista e diretor da edição portuguesa da National Geographic) com o rigor do trabalho científico, o que torna imprescindível a leitura do livro. Anteriormente, publicou A Quercus nas notícias (2006) e Parem as Máquinas! (2015).
A obra agora lançada está dividida em cinco capítulos (Risco nas notícias, Projeto, Naufrágio do Prestige, Pandemia de gripe A, Conclusão). Aqui, fico pela análise aos subtítulos do índice, de onde retiro ideias e conceitos como uniformidade das vozes periciais, falhas de coesão entre especialistas, aceitação de interlocutores, semântica do pânico, conhecimento acumulado sobre a cobertura de acidentes, lições de uma pandemia, faces do acontecimento, imagem como metáfora da notícia, numeralização ou rotinização do acidente, responsabilização e gestão da comunicação, difícil assimilação da correção de expectativas. Por aqui, se vê a densidade do texto.
O autor combina a boa escrita (ele é jornalista e diretor da edição portuguesa da National Geographic) com o rigor do trabalho científico, o que torna imprescindível a leitura do livro. Anteriormente, publicou A Quercus nas notícias (2006) e Parem as Máquinas! (2015).
terça-feira, 27 de setembro de 2016
Eduardo Lourenço e papel dos intelectuais no mundo de hoje
Hoje, Mário Mesquita iniciou as suas conferências sobre O Regresso dos Intelectuais em Tempo de Crise, dando lugar a Eduardo Lourenço, professor, ensaísta e filósofo. Durante 35 minutos, ouvimos este homem sábio falar (as notas abaixo são um mero registo de ideias, como apontamentos de uma aula na universidade). A ligação para o som da conferência está em baixo (aumentar o volume do som para ouvir).
De começo, Eduardo Lourenço recordou o primeiro mártir intelectual, Sócrates, aquele que interrogava o outro e pedia explicações das suas razões. Ao contrário do aristocrata Platão, homem rico, Sócrates mercadejava o seu saber ensinando alunos e extraindo daí dinheiro para viver. Sócrates, uma espécie particular de sofista, um misto de intelectual e jornalista, despertou animosidade na cidade de Atenas e seria condenado. Kierkegaard, para criar o seu método filosófico, inspirou-se em Sócrates e nos diálogos socráticos.
Eduardo Lourenço passaria à frente, porque a genealogia do termo intelectual ocuparia muito tempo e centrou-se na crise atual que a Europa e o mundo discutem, iniciada com a bomba atómica no Japão e, mais perto de nós, com a destruição das torres gémeas de Nova Iorque. Alguém quis punir a América para vingar humilhações históricas verdadeiras ou não. Sem se dar muito por isso, e apesar do apocalipse das Primeira e Segunda Guerras Mundiais, está em curso um desafio de novo tipo ao sistema da civilização ocidental. É certo que uma parte do mundo foi objeto da predação das nações do ocidente, como a China e o Islão, áreas geográficas e culturais muito antigas e de onde irradiou muita da cultura do mundo.
O professor orientou o resto da sua conferência às referências do Islão, brilhante até à conquista de Constantinopla mas enredado e parado a partir daí, fechado no seu mistério e fascínio. Quando Napoleão fez a campanha militar no Egito, ficou encantado com a cultura de 40 séculos das pirâmides. Em romance recente, o já falecido Paulo Varela Gomes (Passos Perdidos, 2016, Tinta-da-China) descreve Betsy, amiga de Napoleão, a falar da descoberta dessa cultura. No mundo da filosofia e da literatura, a admiração pela cultura islâmica seguiria com Chateubriand, Flaubert, Eça de Queirós, T. E. Lawrence.
Hoje, o oriente muçulmano quer refazer a história, recuperar o seu lugar, e sem contemplações. O ocidente tem de ter uma particular atenção, tem de olhar as outras culturas com prudência. Mas não deve seguir a tendência masoquista que se está a verificar em França, onde, num festival sob o signo de Petrarca, os intelectuais daquele país pedem desculpa por antigos ataques e violência. A humilhação não serve para nada. A humanidade inteira é pequena para que hajam culturas que se excluam. A Europa precisa de recuperar uma função mediadora.
No final, perguntou uma assistente à conferência: e qual o papel da Rússia?
[som de Eduardo Lourenço]
segunda-feira, 26 de setembro de 2016
Noticiários de televisão segundo António Barreto
"É simplesmente desmoralizante. Ver e ouvir os serviços de notícias das três ou quatro estações de televisão é pena capital. A banalidade reina. O lugar-comum impera. […] Os alinhamentos são idênticos de canal para canal. Quem marca a agenda dos noticiários são os partidos, os ministros e os treinadores de futebol. […] Os diretos excitantes, sem matéria de excitação, são a joia de qualquer serviço. Por tudo e nada, sai um direto. […] Jornalistas em direto gaguejam palavreado sobre qualquer assunto: importante e humano é o direto, não editado, não pensado, não trabalhado, inculto, mal dito, mal soletrado, mal organizado, inútil, vago e vazio. […] A falta de critério profissional, inteligente e culto é proverbial" (António Barreto, no Diário de Notícias de ontem).
domingo, 25 de setembro de 2016
O Rio, de Jez Butterworth
Como se vê pelo cenário, a história parece decorrer em meio rural junto a um rio com falésias. A cabana pertence ao homem, que tinha convidado uma mulher, talvez num fim de semana ou feriado. Há uma mesa central, um fogão e alguns utensílios de cozinha ao fundo, incluindo copos e garrafas, a que se junta um pequeno móvel com livros e um sofá à direita. Perto da porta, utensílios de pesca; por cima da porta, um quadro com um peixe colorido.
Ele não lhe diz que outras mulheres estiveram ali com ele, mas conta a história do tio a que a casa pertencera e que levara para lá namoradas, enquanto a mulher descobre um vestido escarlate, que teria pertencido a uma anterior namorada dele. O homem encoraja-a a ir com ele à pesca, mas ela está mais interessada no pôr-do-sol.
O homem é um pescador com um discurso filosófico, ao falar da truta marisca que pode ser pescada em grande quantidade numa noite sem luar. Incita-a a ler uma poesia para a convencer a ir com ele, pois não está convencida do êxito da saída. Ela acaba por aceitar mas perde-se no caminho, com ele a regressar ofegante e em pânico, e a telefonar para a polícia. Logo depois, ela assume à porta, trazendo uma grande truta mariscada que pescou com a ajuda de pescador furtivo. Aqui, estabelece-se uma distinção entre legalidade e ilegalidade. A mulher acabou por confessar ser especialista na pesca de trutas, o que levanta dúvidas e o irrita.
Segue-se a preparação da truta pelo pescador, depois da namorada ter refletido na injustiça do mundo – até momentos antes, a truta vivia feliz no rio, agora jazia ali para ser digerida. O homem tira as tripas do peixe, abre a água da torneira, descasca batatas e cenouras, põe azeite e leva o prato ao forno, com uma grande perícia do ator (Rúben Gomes) na tarefa. No ar, começa a circular um leve cheiro a peixe assado. Ele podia acrescentar cebola mas o encenador não deve ter querido correr riscos de os odores da cebola se espalharem e criarem problemas ao ator.
A substituição de uma atriz por outras duas atrizes convida o espectador a pensar na linha de repetição das cenas do pescador com mulheres diferentes, uma espécie de ritual onde as memórias antigas se reproduzem nas palavras do homem que recupera e mistura. O passado torna-se diferente como o fluir do rio. Nunca se banha nas mesmas águas do rio do mesmo modo que há ciclos que se repetem na vida. Talvez a peça seja sobre a solidão em que o homem diz que ama a mulher e está à espera que esta responda da mesma maneira. Mas a múltipla representação feminina leva-nos a características diferentes – mais romântica, mais distante, mais ingénua.
[Inspirei-me na crítica do jornal The Guardian, de 27 de outubro de 2012]
O Rio, de Jez Butterworth (nascido em 1969), com tradução de Joana Frazão, atores Rúben Gomes, Inês Pereira, Vânia Rodrigues e Maria Jorge, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, assistência de Maria Jorge, coordenação técnica de João Chicó e encenação de Jorge Silva Melo. Fotografia de Jorge Gonçalves. Peça dos Artistas Unidos.
sexta-feira, 23 de setembro de 2016
quinta-feira, 22 de setembro de 2016
Maria Pedro Olaio e Sofia de Medeiros expõem em Coimbra
"A junção de dois versos de poemas separados de Sophia de Mello Breyner Andresen dá o mote para a exposição que o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha acolhe, em Coimbra, aquando da comemoração dos 500 anos da beatificação daquela que nasceu princesa de Aragão e foi a sexta rainha de Portugal, por via matrimonial com o rei D. Dinis, a Rainha Santa Isabel. “Com teus gestos me vestiste, na nudez da minha vida” não só reúne trabalhos paradigmáticos dos vastos percursos artísticos de Maria Pedro Olaio e de Sofia de Medeiros como também põe a nu, à luz do agora visível, histórias, significados e gestos materializados em obras mais recentes" (texto e cartaz de apresentação enviados pela organização).
quarta-feira, 21 de setembro de 2016
Ricardo Reis na Barraca
José Saramago publicou o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis em 1984, tendo como protagonista Ricardo Reis, um heterónimo de Fernando Pessoa. Médico regressado a Lisboa, vindo do Brasil depois de 16 anos de ausência, expatriado por ser monárquico, a personagem observa o desenrolar de um ano trágico, o do começo da guerra civil espanhola e consequente implantação do fascismo em Espanha enquanto continuava a ditadura de Salazar desde 1928, a expansão nazista na Alemanha e a ascensão de Mussolini na Itália.
Saramago em entrevista a Adelino Gomes diria: "Conheci Ricardo Reis por altura dos meus 17 ou 18 anos. Na Escola Industrial de Afonso Domingues, que frequentava, havia uma biblioteca, e foi aí que se me deparou um exemplar da revista Athena em que apareciam umas quantas odes assinadas com aquele nome. Dizer que fiquei deslumbrado é pouco, tinha diante de mim a beleza em estado puro. Nessa altura, pensei que Ricardo Reis era uma pessoa real, não sabia nada dos heterónimos e pouquíssimo do próprio Pessoa".
Saramago, com 13 anos em 1936, baseou-se em memórias para escrever o livro sobre a solidão e um tempo triste. As relações estabelecidas e que a peça segue são frias, quase desumanas, um interior falso. A criada da pensão, grávida de Ricardo Reis, diria que se ele não perfilhasse a criança ela não se importaria. Ricardo Reis, interrogado pela polícia política, desejosa de saber porque regressara do Brasil depois de tanto fora, queixou-se das perguntas íntimas que lhe fizeram. A filha do agrário de Coimbra tinha uma paralisia no braço porque ficara triste.
Agora, em 2016, Hélder Costa adaptou a obra para o teatro A Barraca, com a interpretação de Adérito Lopes (Ricardo Reis) e Ruben Garcia (Fernando Pessoa). Hélder Costa recorda a coragem do escritor, pelo seu serviço à arte e à cidadania. Destaco a interpretação de Ruben Garcia no desempenho do espetro de Pessoa, com a sua maneira de andar e o riso e modo de falar estridente e assustador.
Saramago em entrevista a Adelino Gomes diria: "Conheci Ricardo Reis por altura dos meus 17 ou 18 anos. Na Escola Industrial de Afonso Domingues, que frequentava, havia uma biblioteca, e foi aí que se me deparou um exemplar da revista Athena em que apareciam umas quantas odes assinadas com aquele nome. Dizer que fiquei deslumbrado é pouco, tinha diante de mim a beleza em estado puro. Nessa altura, pensei que Ricardo Reis era uma pessoa real, não sabia nada dos heterónimos e pouquíssimo do próprio Pessoa".
Saramago, com 13 anos em 1936, baseou-se em memórias para escrever o livro sobre a solidão e um tempo triste. As relações estabelecidas e que a peça segue são frias, quase desumanas, um interior falso. A criada da pensão, grávida de Ricardo Reis, diria que se ele não perfilhasse a criança ela não se importaria. Ricardo Reis, interrogado pela polícia política, desejosa de saber porque regressara do Brasil depois de tanto fora, queixou-se das perguntas íntimas que lhe fizeram. A filha do agrário de Coimbra tinha uma paralisia no braço porque ficara triste.
Agora, em 2016, Hélder Costa adaptou a obra para o teatro A Barraca, com a interpretação de Adérito Lopes (Ricardo Reis) e Ruben Garcia (Fernando Pessoa). Hélder Costa recorda a coragem do escritor, pelo seu serviço à arte e à cidadania. Destaco a interpretação de Ruben Garcia no desempenho do espetro de Pessoa, com a sua maneira de andar e o riso e modo de falar estridente e assustador.
terça-feira, 20 de setembro de 2016
Orações de Sapiência
Ao final da tarde de hoje, foi lançado o livro organizado e com introdução de José Miguel Sardica Orações de Sapiência, Faculdade de Ciências Humanas 2001-2016, contendo 17 textos apresentados nesse período. Para o organizador, o livro ilustra o passado, presente e a "identidade poliédrica" da Faculdade de Ciências Humanas. Para José Miguel Sardica ainda, a "sua publicação é um ato de celebração e de efeméride. Mas é também um gesto de afirmação científica, de serviço à universidade e à sociedade, e de promoção da cidadania".
Os textos pertencem a Alexandra Lopes, Carlos Morujão, Cassiano Maria Reimão, Fernando Ilharco, Francisco Branco, Helena Rebelo Pinto, Isabel Casanova, Isabel Ferin Cunha, Isabel Guerra, Jorge Fazenda Lourenço, José Miguel Sardica, Luísa Leal de Faria, Manuel Braga da Cruz, Manuel Cândido Pimentel, Mário Ferreira Lages, Nelson Costa Ribeiro e Rogério Santos.
No vídeo, a professora Laura Pires numa parcela da sua apresentação da obra.
segunda-feira, 19 de setembro de 2016
Música no Coração
Charmian Anne Farnon, mais conhecida como Charmian Carr, a atriz que representou o papel de filha mais velha e rebelde dos von Trapp no filme Música no Coração morreu anteontem em Los Angeles aos 73 anos. Charmion Farnon sofria de uma forma rara de demência.
Adolescente na altura da exibição do filme, em 1965 ou 1966, eu pedi uma fotografia dela à produtora do filme. Então, Charmion Farnon tinha 22 anos. Lembro-me de ter visto o filme no cinema Coliseu (Porto). A ilusão da imagem cinematográfica, a alegria de uma família que contratara uma preceptora e os concertos vocais dados esmagavam qualquer compreensão sobre aqueles indivíduos estranhos que se moviam à noite em carros negros e vistosos. O nazismo ainda não era entendido pelo espectador e tudo não passaria de um pequeno jogo entre bons e maus, com aqueles a triunfarem mesmo fugindo a pé por montanhas geladas. A análise política não existia simplesmente.
Leio na wikipédia que Música no Coração, em termos comerciais, se tornou à época, o mais rentável, substituindo E Tudo o Vento Levou. Foi selecionado em 1998 pelo American Film Institute (AFI) como o 55º melhor filme norte-americano de todos os tempos e o quinto melhor filme musical da história.
Adolescente na altura da exibição do filme, em 1965 ou 1966, eu pedi uma fotografia dela à produtora do filme. Então, Charmion Farnon tinha 22 anos. Lembro-me de ter visto o filme no cinema Coliseu (Porto). A ilusão da imagem cinematográfica, a alegria de uma família que contratara uma preceptora e os concertos vocais dados esmagavam qualquer compreensão sobre aqueles indivíduos estranhos que se moviam à noite em carros negros e vistosos. O nazismo ainda não era entendido pelo espectador e tudo não passaria de um pequeno jogo entre bons e maus, com aqueles a triunfarem mesmo fugindo a pé por montanhas geladas. A análise política não existia simplesmente.
Leio na wikipédia que Música no Coração, em termos comerciais, se tornou à época, o mais rentável, substituindo E Tudo o Vento Levou. Foi selecionado em 1998 pelo American Film Institute (AFI) como o 55º melhor filme norte-americano de todos os tempos e o quinto melhor filme musical da história.
domingo, 18 de setembro de 2016
Ontem, fui ao concerto dos Beatles
O filme The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years (2016), de Ron Howard, recolhe elementos sobre 250 concertos da banda de Liverpool entre 1963 e 1966, como músicas, entrevistas e histórias dos quatro músicos. Outro dado: de 1962 a 1966, atuaram 815 vezes em quinze países e 90 cidades.
Admirador da banda, embora com um gosto adormecido nos últimos anos, pude compreender as histórias, os sucessos e as dificuldades, o lado criativo dos músicos nascidos na primeira metade da década de 1940 em meios de classe trabalhadora inglesa, a sofrer os efeitos da II Guerra Mundial. A exaustão da vida dos músicos é a origem da canção Help - ensaios de manhã no estúdio, sessões fotográficas ao começo da tarde, concerto à tarde na televisão e atuação num clube noturno à noite ou 25 concertos em 30 dias na primeira visita aos Estados Unidos ou ainda o boicote naquele país quando Lennon declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Isto provocou medo na banda e um pedido de desculpas do músico.
Num dos depoimentos, um historiador da música compara, em termos de melodias, a criatividade dos Beatles, nomeadamente a dupla Lennon/McCartney, a Schubert e a Mozart. Dos Beatles, teriam ficado mais de 400 canções. Noutro depoimento, reflete-se a viragem dos primeiros álbuns com letras viradas para "eu amo-te, tu amas-me" para líricas mais sociológicas, fruto do amadurecimento dos músicos. Mas sempre uma grande energia e uma atualização, que se pode ver nos estilos de vestuário e códigos de conduta e em alguma afirmação política, como quando decidiram tocar num estádio no sul dos Estados Unidos para negros e brancos, sem segregação, numa altura em que os negros lutavam pelos seus direitos cívicos.
No final, após a ficha técnica, em cópia restaurada, viu-se um magnífico concerto em estádio de Nova Iorque em 1965. Como a banda nunca veio a Portugal, só agora nós temos possibilidades de os ver ao vivo. No concerto, que reuniu quase 57 mil espectadores, a banda saiu de automóvel de dentro do estádio para fugir ao contacto com os fãs, que gritavam, choravam e desmaiavam. A polícia nunca vira uma multidão tão entusiasmada e descontrolada. Os músicos não conseguiam ouvir o que tocavam, dado o ruído em volta. Apenas os automatismos de muitas horas em conjunto permitiram que a banda tocasse afinada.
Nota: amanhã, 19 de setembro de 2016, na sessão das 21:30 do cinema Monumental (Lisboa), Luís Pinheiro de Almeida e Teresa Lage, autores do livro Beatles em Portugal, falarão sobre o filme.
Admirador da banda, embora com um gosto adormecido nos últimos anos, pude compreender as histórias, os sucessos e as dificuldades, o lado criativo dos músicos nascidos na primeira metade da década de 1940 em meios de classe trabalhadora inglesa, a sofrer os efeitos da II Guerra Mundial. A exaustão da vida dos músicos é a origem da canção Help - ensaios de manhã no estúdio, sessões fotográficas ao começo da tarde, concerto à tarde na televisão e atuação num clube noturno à noite ou 25 concertos em 30 dias na primeira visita aos Estados Unidos ou ainda o boicote naquele país quando Lennon declarou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Isto provocou medo na banda e um pedido de desculpas do músico.
Num dos depoimentos, um historiador da música compara, em termos de melodias, a criatividade dos Beatles, nomeadamente a dupla Lennon/McCartney, a Schubert e a Mozart. Dos Beatles, teriam ficado mais de 400 canções. Noutro depoimento, reflete-se a viragem dos primeiros álbuns com letras viradas para "eu amo-te, tu amas-me" para líricas mais sociológicas, fruto do amadurecimento dos músicos. Mas sempre uma grande energia e uma atualização, que se pode ver nos estilos de vestuário e códigos de conduta e em alguma afirmação política, como quando decidiram tocar num estádio no sul dos Estados Unidos para negros e brancos, sem segregação, numa altura em que os negros lutavam pelos seus direitos cívicos.
No final, após a ficha técnica, em cópia restaurada, viu-se um magnífico concerto em estádio de Nova Iorque em 1965. Como a banda nunca veio a Portugal, só agora nós temos possibilidades de os ver ao vivo. No concerto, que reuniu quase 57 mil espectadores, a banda saiu de automóvel de dentro do estádio para fugir ao contacto com os fãs, que gritavam, choravam e desmaiavam. A polícia nunca vira uma multidão tão entusiasmada e descontrolada. Os músicos não conseguiam ouvir o que tocavam, dado o ruído em volta. Apenas os automatismos de muitas horas em conjunto permitiram que a banda tocasse afinada.
Nota: amanhã, 19 de setembro de 2016, na sessão das 21:30 do cinema Monumental (Lisboa), Luís Pinheiro de Almeida e Teresa Lage, autores do livro Beatles em Portugal, falarão sobre o filme.
sexta-feira, 16 de setembro de 2016
História e memória em Fernando Rosas
Fernando Rosas, professor catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, fundador e até há pouco tempo diretor do Instituto de História Contemporânea proferia a sua última lição em 26 de abril de 2016, texto agora editado pela Tinta da China. Além desta lição, o livro traz textos de apresentação do percurso intelectual (e político) de Fernando Rosas - Helena Trindade Lopes, Luís Trindade e Francisco Louça. A parte final do livro tem uma longa entrevista conduzida por Luís Trindade ao autor de livros como Salazar e o Poder. A Arte de Saber Durar (2012) e A Transição Falhada. O Marcelismo e o Fim do Estado Novo (1968-1974) (2004)(coordenado por ele e por Pedro Aires de Oliveira).
A última aula teve o título exato de História, (Des)memória e Hegemonia. O autor situa o começo da desinquietação que leva ao assunto nas duas últimas décadas do século XX: a revisão das representações do passado, associada à emergência de uma nova ordem conservadora - o neoliberalismo. Há uma "gigantesca releitura do mundo" do passado, caso da desculpabilização da ditadura de Salazar (p. 54) ou da manipulação da história com fins mediáticos como o concurso de Grandes Portugueses em 2006-2007 (p. 72), que levam habitualmente a uma obsessão memorial (p. 58) e a uma visão desdramatizada do passado (p. 73), a qual se distingue da nova investigação histórica e abertura de novos arquivos e documentação, além da recolha de fontes orais (p. 50). Melhor dizendo, segundo Fernando Rosas: História académica e usos públicos da memória cruzam-se mas não se devem confundir (p. 56). Ou como ele chama ao longo do texto - a memória-prótese por oposição ao revisionismo (p. 59). No autor, em pano de fundo, a interpretação do período revolucionário português (1974-1975) e a democracia institucionalizada em 1976 - os seus autores, os seus pontos de vista e a apropriação hegemónica dos vencedores.
A entrevista dada a Luís Trindade reflete muito o pensamento do autor, dando-o a conhecer melhor para quem não priva com ele. Primeiro o percurso político: do Partido Comunista ao MRPP e, depois, ao Bloco de Esquerda. Depois, as filiações culturais de um licenciado em Direito que reverte toda a sua disponibilidade intelectual para a História: Manuel Villaverde Cabral, Manuel de Lucena e Vasco Pulido Valente em livros publicados na passagem da década de 1970 para a seguinte. Dos três, há um pequeno pormenor, mas que acho delicioso, sobre Vasco Pulido Valente e a "malvadez" que o caracteriza e que desconstrói a visão mítica republicana maçónica da Primeira República, porque a "rapaziada" (os dirigentes) do partido Republicano aproveitou-se do que outros fizeram para derrubar a monarquia (p. 96). E há ainda espaço para reconhecer a importância de um historiador como Joel Serrão, que morreu dez anos antes de morrer e a quem o país ainda não prestou a devida homenagem (p. 116). Os outros centros da entrevista são a revista História, os cursos de mestrados que abriram portas à investigação das estruturas ligadas ao Estado Novo (PIDE, Mocidade Portuguesa) e a abertura de arquivos como a Torre do Tombo (caso dos arquivos Salazar e PIDE), esperando ele que outros arquivos se abram (Igreja Católica, Partido Comunista).
A última aula teve o título exato de História, (Des)memória e Hegemonia. O autor situa o começo da desinquietação que leva ao assunto nas duas últimas décadas do século XX: a revisão das representações do passado, associada à emergência de uma nova ordem conservadora - o neoliberalismo. Há uma "gigantesca releitura do mundo" do passado, caso da desculpabilização da ditadura de Salazar (p. 54) ou da manipulação da história com fins mediáticos como o concurso de Grandes Portugueses em 2006-2007 (p. 72), que levam habitualmente a uma obsessão memorial (p. 58) e a uma visão desdramatizada do passado (p. 73), a qual se distingue da nova investigação histórica e abertura de novos arquivos e documentação, além da recolha de fontes orais (p. 50). Melhor dizendo, segundo Fernando Rosas: História académica e usos públicos da memória cruzam-se mas não se devem confundir (p. 56). Ou como ele chama ao longo do texto - a memória-prótese por oposição ao revisionismo (p. 59). No autor, em pano de fundo, a interpretação do período revolucionário português (1974-1975) e a democracia institucionalizada em 1976 - os seus autores, os seus pontos de vista e a apropriação hegemónica dos vencedores.
A entrevista dada a Luís Trindade reflete muito o pensamento do autor, dando-o a conhecer melhor para quem não priva com ele. Primeiro o percurso político: do Partido Comunista ao MRPP e, depois, ao Bloco de Esquerda. Depois, as filiações culturais de um licenciado em Direito que reverte toda a sua disponibilidade intelectual para a História: Manuel Villaverde Cabral, Manuel de Lucena e Vasco Pulido Valente em livros publicados na passagem da década de 1970 para a seguinte. Dos três, há um pequeno pormenor, mas que acho delicioso, sobre Vasco Pulido Valente e a "malvadez" que o caracteriza e que desconstrói a visão mítica republicana maçónica da Primeira República, porque a "rapaziada" (os dirigentes) do partido Republicano aproveitou-se do que outros fizeram para derrubar a monarquia (p. 96). E há ainda espaço para reconhecer a importância de um historiador como Joel Serrão, que morreu dez anos antes de morrer e a quem o país ainda não prestou a devida homenagem (p. 116). Os outros centros da entrevista são a revista História, os cursos de mestrados que abriram portas à investigação das estruturas ligadas ao Estado Novo (PIDE, Mocidade Portuguesa) e a abertura de arquivos como a Torre do Tombo (caso dos arquivos Salazar e PIDE), esperando ele que outros arquivos se abram (Igreja Católica, Partido Comunista).
quarta-feira, 14 de setembro de 2016
Cartas da Guerra e as minhas memórias
Escrevi aqui, a 16 de dezembro de 2005, sobre o livro D'Este Viver Aqui Neste Papel Descriptivo de António Lobo Antunes. De entre outras linhas, escrevi que se trata de "um livro de amor que decorre com a guerra colonial como pano de fundo. Os aerogramas (ou cartas) que o alferes miliciano António Lobo Antunes mandava para a mulher Maria José Fonseca Costa Lobo Antunes são a expressão do amor à distância e relata o dia a dia da vida de um militar destacado em Angola durante a guerra, no caso dele entre 1971 e 1973.
O livro lê-se como um romance pleno de acção, mesmo que muitas das cartas contenham versões minimais de outras".
Depois, destaquei os temas principais das cartas: "a saudade da mulher (e da filha que vai nascer aqui em Lisboa quando ele está lá longe, em Gago Coutinho - o nome de então de uma vila angolana perto da fronteira com a Zâmbia). Daí que as cartas comecem sempre com «minha jóia querida» e acabem com «gosto tudo de ti». Outra linha constante é a referência à sua necessidade de escrever, ele que debutava e seria bastante mais tarde reconhecido como grande escritor. Escrevia ele a 5 de Abril de 1971 (p. 117): «Tenho continuado a história, agora a caminho da página número 70, vamos a ver se consigo que fique boa». A 21 de Maio do mesmo ano (p. 171): «Entretanto lá vou empurrando a história para a frente». No dia 8 de Julho (p. 232) escrevia: «Acabada a primeira parte, eis-me a trotar na segunda»".
O atraso de correspondência era outra constante da vida diária do alferes médico Lobo Antunes, nascido em 1942: "Desde 4ª feira passada (hoje é 3ª) que não recebo notícias tuas e que nada sei a teu respeito" (6 de Abril de 1971, p. 118). Muitas vezes, considera que o amor entre ele e a mulher está a chegar ao fim, pois ela não lhe responde. Mas das suas cartas percebe-se que ela se queixava do mesmo. Cada aerograma demorava muitos dias, devido aos circuitos complexos de correio no interior de Angola. Hoje, tais lamentações não seriam possíveis, graças ao telemóvel e, em especial, a internet [há poucas semanas, uma reportagem de televisão mostrava os soldados destacados em missão internacional no Afeganistão com uso de internet e envio de imagens fotográficas. O tempo de demora reduziu-se a instantes]. O dia a dia sem motivos novos levava a um remoer constante das mesmas ideias. Mas o autor não assumia que nelas pensava todos os dias: «Há muito que não falo da criança [a mulher ficara grávida quando ele embarcou para Angola], mas tenho pensado muito nela» (26 de Abril de 1971, p. 140). Lobo Antunes abordara a situação no dia anterior. Depois, é o seu conselho quanto ao nome da criança a nascer; querendo uma rapariga, propõe o nome de Maria José, o que virá a acontecer".
Um tema marginal nas cartas à mulher, mas que retoma com alguma regularidade, é o da compra de bebidas brancas a preços baixos: "A propósito de oficiais, cada um tem direito por mês a 3 garrafas, duas de uísque e uma de conhaque, de marcas estupendas, a preços de cerca de 100$00. [...] Embora não goste de nada disso (e tenho pena) ficamos cheios de alcoóis para os visitantes do nosso quimbo" (carta de 29 de Março de 1971, p. 109. Quimbo em umbundo, a língua da região, significa casa). A 20 de Janeiro de 1972 (p. 338), dá conta de uma alteração: "já não vendem mais garrafas aos senhores oficiais, por aqueles preços convidativos". E, por mais de uma vez, conta que militares de visita a Portugal serão transportadores de algumas dessas garrafas.
Retenho ainda da leitura do livro o conhecimento que ele adquiriu com o capitão Ernesto Melo Antunes, comandante de uma das companhias do seu batalhão (certamente aí colocado depois de, em 1969, ter sido o único oficial das Forças Armadas portuguesas a fazer parte de uma lista de oposição ao regime, ele que seria um dos oficiais do 25 de Abril de 1974 e que assumiu uma posição de liderança, com o Documento dos Nove, uma posição moderada após a radicalização à esquerda do regime em 1975 e 1975. Melo Antunes, homem culto, emprestava livros e revistas como o Nouvel Observateur e jogou xadrez com Lobo Antunes, ensinando-lhe várias entradas, como o livro indica. Por outro lado, a tomada de consciência política (apesar de, numa primeira fase, parecer favorável à situação, vai-se distanciando da posição oficial).
Retomo este texto que resultou da minha leitura de D'Este Viver Aqui Neste Papel Descriptivo há já quase 11 anos, a propósito do filme Cartas da Guerra, do cineasta Ivo Ferreira, filme quase documentário assente nesse livro de António Lobo Antunes de aerogramas enviados à mulher. Filme a preto e branco, sempre com imagem magnífica de João Ribeiro, com leitura de cartas pelos narradores e intérpretes Miguel Nunes e Margarida Vila-Nova. O filme complementa visualmente a narrativa escrita, mostrando a paisagem da Lunda Sul, com o enorme rio Chiumbe a surgir de quando em quando (julgo ser ele, pois ouve-se o seu nome, embora associado a uma pequena vila, esta bastante a norte do local onde Lobo Antunes esteve, perto da então designada Gago Coutinho). Estão no filme a prisão em que se tornou o aquartelamento da companhia liderada por Melo Antunes, com trincheiras cavadas, por se temer o assalto dos guerrilheiros do MPLA, as emboscadas e os mortos e feridos (Lobo Antunes operou sem anestesia), a PIDE e os Flechas, a apreensão de propaganda dos guerrilheiros, então terroristas, o assassínio de terroristas apanhados, as campanhas de vacinação, as crenças e festas dos locais, a alimentação e as bebidas e até um show musical com artistas brancas em Gago Coutinho e que traçam uma história quase impossível de obter da leitura das cartas. Até formigas com asas o filme identifica, mais as chuvas violentas a que se segue sempre uma claridade deslumbrante naquelas terras. O que revela o conhecimento e a qualidade do argumento de Ivo Ferreira e Edgar Medina.
No filme, a personagem que representa Melo Antunes diz: "esta guerra não tem justificação". Ele e o alferes médico jogam mais uma partida de xadrez e Lobo Antunes está a acabar um capítulo de um livro, enquanto pensa na mulher e na filha recém-nascida. No filme, também se ouvem os sons da rádio: um discurso de Marcelo Caetano nas Conversas em Família e um relato de futebol Benfica-Ajax. E sempre a longa e inesquecível planície da Lunda Sul.
De repente, enquanto via o filme, pensei no Teixeira, um jovem afável de Guimarães, e seis outros companheiros vítimas de uma emboscada no dia 1 de maio de 1972 na estrada que ligava Moxico (então Luso) a Dala, onde a minha companhia estava [imagens em baixo]. Este ano, no almoço de antigos combatentes em Angola, alguém me disse que eu estava de serviço nesse dia. Devo ter tido uma amnesia parcial, pois não me lembro desse serviço. Recordo apenas a agonia dos jovens militares na enfermaria da companhia, por já nada haver a fazer. E da descrição emocionada do Muga, um dos condutores de uma Berliet, ele que escapara com mais outros companheiros. Creio que nunca pensei muito bem nisto em 44 anos. Talvez tenha acabado o luto hoje.
Depois, destaquei os temas principais das cartas: "a saudade da mulher (e da filha que vai nascer aqui em Lisboa quando ele está lá longe, em Gago Coutinho - o nome de então de uma vila angolana perto da fronteira com a Zâmbia). Daí que as cartas comecem sempre com «minha jóia querida» e acabem com «gosto tudo de ti». Outra linha constante é a referência à sua necessidade de escrever, ele que debutava e seria bastante mais tarde reconhecido como grande escritor. Escrevia ele a 5 de Abril de 1971 (p. 117): «Tenho continuado a história, agora a caminho da página número 70, vamos a ver se consigo que fique boa». A 21 de Maio do mesmo ano (p. 171): «Entretanto lá vou empurrando a história para a frente». No dia 8 de Julho (p. 232) escrevia: «Acabada a primeira parte, eis-me a trotar na segunda»".
O atraso de correspondência era outra constante da vida diária do alferes médico Lobo Antunes, nascido em 1942: "Desde 4ª feira passada (hoje é 3ª) que não recebo notícias tuas e que nada sei a teu respeito" (6 de Abril de 1971, p. 118). Muitas vezes, considera que o amor entre ele e a mulher está a chegar ao fim, pois ela não lhe responde. Mas das suas cartas percebe-se que ela se queixava do mesmo. Cada aerograma demorava muitos dias, devido aos circuitos complexos de correio no interior de Angola. Hoje, tais lamentações não seriam possíveis, graças ao telemóvel e, em especial, a internet [há poucas semanas, uma reportagem de televisão mostrava os soldados destacados em missão internacional no Afeganistão com uso de internet e envio de imagens fotográficas. O tempo de demora reduziu-se a instantes]. O dia a dia sem motivos novos levava a um remoer constante das mesmas ideias. Mas o autor não assumia que nelas pensava todos os dias: «Há muito que não falo da criança [a mulher ficara grávida quando ele embarcou para Angola], mas tenho pensado muito nela» (26 de Abril de 1971, p. 140). Lobo Antunes abordara a situação no dia anterior. Depois, é o seu conselho quanto ao nome da criança a nascer; querendo uma rapariga, propõe o nome de Maria José, o que virá a acontecer".
Um tema marginal nas cartas à mulher, mas que retoma com alguma regularidade, é o da compra de bebidas brancas a preços baixos: "A propósito de oficiais, cada um tem direito por mês a 3 garrafas, duas de uísque e uma de conhaque, de marcas estupendas, a preços de cerca de 100$00. [...] Embora não goste de nada disso (e tenho pena) ficamos cheios de alcoóis para os visitantes do nosso quimbo" (carta de 29 de Março de 1971, p. 109. Quimbo em umbundo, a língua da região, significa casa). A 20 de Janeiro de 1972 (p. 338), dá conta de uma alteração: "já não vendem mais garrafas aos senhores oficiais, por aqueles preços convidativos". E, por mais de uma vez, conta que militares de visita a Portugal serão transportadores de algumas dessas garrafas.
Retenho ainda da leitura do livro o conhecimento que ele adquiriu com o capitão Ernesto Melo Antunes, comandante de uma das companhias do seu batalhão (certamente aí colocado depois de, em 1969, ter sido o único oficial das Forças Armadas portuguesas a fazer parte de uma lista de oposição ao regime, ele que seria um dos oficiais do 25 de Abril de 1974 e que assumiu uma posição de liderança, com o Documento dos Nove, uma posição moderada após a radicalização à esquerda do regime em 1975 e 1975. Melo Antunes, homem culto, emprestava livros e revistas como o Nouvel Observateur e jogou xadrez com Lobo Antunes, ensinando-lhe várias entradas, como o livro indica. Por outro lado, a tomada de consciência política (apesar de, numa primeira fase, parecer favorável à situação, vai-se distanciando da posição oficial).
Retomo este texto que resultou da minha leitura de D'Este Viver Aqui Neste Papel Descriptivo há já quase 11 anos, a propósito do filme Cartas da Guerra, do cineasta Ivo Ferreira, filme quase documentário assente nesse livro de António Lobo Antunes de aerogramas enviados à mulher. Filme a preto e branco, sempre com imagem magnífica de João Ribeiro, com leitura de cartas pelos narradores e intérpretes Miguel Nunes e Margarida Vila-Nova. O filme complementa visualmente a narrativa escrita, mostrando a paisagem da Lunda Sul, com o enorme rio Chiumbe a surgir de quando em quando (julgo ser ele, pois ouve-se o seu nome, embora associado a uma pequena vila, esta bastante a norte do local onde Lobo Antunes esteve, perto da então designada Gago Coutinho). Estão no filme a prisão em que se tornou o aquartelamento da companhia liderada por Melo Antunes, com trincheiras cavadas, por se temer o assalto dos guerrilheiros do MPLA, as emboscadas e os mortos e feridos (Lobo Antunes operou sem anestesia), a PIDE e os Flechas, a apreensão de propaganda dos guerrilheiros, então terroristas, o assassínio de terroristas apanhados, as campanhas de vacinação, as crenças e festas dos locais, a alimentação e as bebidas e até um show musical com artistas brancas em Gago Coutinho e que traçam uma história quase impossível de obter da leitura das cartas. Até formigas com asas o filme identifica, mais as chuvas violentas a que se segue sempre uma claridade deslumbrante naquelas terras. O que revela o conhecimento e a qualidade do argumento de Ivo Ferreira e Edgar Medina.
No filme, a personagem que representa Melo Antunes diz: "esta guerra não tem justificação". Ele e o alferes médico jogam mais uma partida de xadrez e Lobo Antunes está a acabar um capítulo de um livro, enquanto pensa na mulher e na filha recém-nascida. No filme, também se ouvem os sons da rádio: um discurso de Marcelo Caetano nas Conversas em Família e um relato de futebol Benfica-Ajax. E sempre a longa e inesquecível planície da Lunda Sul.
terça-feira, 13 de setembro de 2016
A Primeira Reportagem Radiofónica
A revista Nova Antena (1968-1970) era propriedade da RTP, Rádio Clube Português e Rádio Renascença, com informação sobre rádio, televisão e cinema e programação daquelas três estações. Sucedia à revista Antena (1965-1968), apenas propriedade de Rádio Clube Português e veiculando somente informação desta estação de rádio. Na Nova Antena, havia um redator de cada um dos meios de comunicação que tratava de temas da sua estação. Semanal, o sucesso da nova revista não terá sido grande, pois o primeiro diretor, José Maria de Almeida, foi substituído por João Coito no número 32, em junho de 1969. A partir daí, a revista perdeu algum interesse, com um grafismo de menor qualidade e dando mais relevo às vedetas de cinema internacionais. João Coito, nos seus editoriais, revelou-se um grande defensor da política de Marcelo Caetano.
Uma das raras bandas desenhadas que aparecem a ilustrar a publicação é a que se segue, no número 13, de 24 de janeiro de 1969, assinada por Lux e Fédor, A Primeira Reportagem Radiofónica. Ela conta o desempenho de David Sarnoff, que tornaria possível a transmissão massificada da rádio. A própria empresa duvidava do êxito daquele colaborador. A história abaixo presente descreve como ele conseguiu que um combate de boxe, opondo o campeão a um desafiante, fosse ouvido nomeadamente em teatros alugados no dia do encontro para a audição do mesmo. Superados o aluguer de salas e os problemas técnicos de linhas telefónicas, amplificação, altifalantes - e autorizações legais respetivas -, a Sarnoff colocou-se a questão do modelo de transmissão. Hoje, sabe-se transmitir um relato de futebol, hóquei em patins ou basquetebol, ou outra modalidade qualquer. Mas como seria a primeira transmissão?
Os desenhos da banda pertencem a Fédor, pseudónimo de Fernand Vandenwouwer, que desenhou a revista Tintin do começo da década de 1960 até à década seguinte. Ele, após desenhar pequenas histórias, começou a série Naufragés de l'An 3000. Outras histórias, como a que aqui se apresenta, contaram com textos de Lux.
Uma das raras bandas desenhadas que aparecem a ilustrar a publicação é a que se segue, no número 13, de 24 de janeiro de 1969, assinada por Lux e Fédor, A Primeira Reportagem Radiofónica. Ela conta o desempenho de David Sarnoff, que tornaria possível a transmissão massificada da rádio. A própria empresa duvidava do êxito daquele colaborador. A história abaixo presente descreve como ele conseguiu que um combate de boxe, opondo o campeão a um desafiante, fosse ouvido nomeadamente em teatros alugados no dia do encontro para a audição do mesmo. Superados o aluguer de salas e os problemas técnicos de linhas telefónicas, amplificação, altifalantes - e autorizações legais respetivas -, a Sarnoff colocou-se a questão do modelo de transmissão. Hoje, sabe-se transmitir um relato de futebol, hóquei em patins ou basquetebol, ou outra modalidade qualquer. Mas como seria a primeira transmissão?
Os desenhos da banda pertencem a Fédor, pseudónimo de Fernand Vandenwouwer, que desenhou a revista Tintin do começo da década de 1960 até à década seguinte. Ele, após desenhar pequenas histórias, começou a série Naufragés de l'An 3000. Outras histórias, como a que aqui se apresenta, contaram com textos de Lux.
sábado, 10 de setembro de 2016
José Rodrigues
Faleceu hoje este artista plástico. De entre outras atividades, ele foi fundador da cooperativa Árvore e da bienal de Cerveira. No Porto, a sua escultura na ribeira do Douro, conhecida pelo "cubo", provocou celeuma quando instalada. Na imagem, o trabalho escultórico interior feito por José Rodrigues em edifício de telecomunicações (TLP, atual PT, à rua Tenente Valadim, Porto).
terça-feira, 6 de setembro de 2016
Velhos no porto de Santa Cruz
De repente, lembrei-me de Edward Hopper (1882-1967). Mas o Instagram altera cores e linhas de perspetiva. [P. S.]
segunda-feira, 5 de setembro de 2016
A história da rádio segundo Álvaro de Andrade (9)
Mais de cem músicos faziam parte das orquestras da Emissora Nacional em 1938. Com emissões experimentais desde 1934, a partir de Barcarena, e emissões oficiais desde agosto de 1935, já na rua do Quelhas, 2, em Lisboa, a Emissora Nacional daria emprego a quase todos os músicos do país, dada a inexistência de uma orquestra sinfónica nacional desde a I República. António Joyce, que reerguera das cinzas o orfeão de Coimbra, fora generoso no levantar orquestras dentro da novel estação. Ele saiu pouco depois de entrar na Emissora Nacional. Henrique Galvão sucedeu-lhe, atribuindo-se-lhe uma frase sibilina sobre o seu antecessor: as notas musicais zangaram-se com as notas do banco. Galvão reduziu bastante a dimensão das orquestras, mas ainda havia cem músicos integrados no quadro da estação.
Havia oito agrupamentos (entre parêntesis, coloco o nome do maestro): grande orquestra sinfónica (Pedro de Freitas Branco), orquestra genérica (Pedro Blanc), popular (Wenceslau Pinto), câmara (Frederico de Freitas), salão (Wenceslau Pinto), sexteto A e B (René Bohet), quarteto (Luís Barbosa) e trio (Silva Pereira). Só a grande orquestra sinfónica tinha 85 elementos, apresentados com instrumentos e nomes no texto de Álvaro de Andrade (Diário Popular, 29 de setembro de 1970): primeiros e segundos violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, flautas, oboés, corne inglês, clarinetes, clarinetes baixo, saxofone, fagotes, trompas, trompetes, trombones e cuba, tímpanos, percussão, harpa e teclado.
O maestro Pedro Freitas Branco atingiria reconhecimento nacional e internacional durante as décadas de 1930 a 1950. O jornalista elencaria algumas das obras executadas pelo maestro, a quem dedicaria textos posteriores.
A Emissora Nacional dotava-se, deste modo, de instrumentos para criar gosto. António Ferro, que sucedeu ao intempestivo Henrique Galvão em 1941, dotou a rádio oficial (como se dizia à época) de novos instrumentos, como o Gabinete de Estudos Musicais e o Centro de Preparação de Artistas da Rádio, entre 1947 e 1948. De forma lenta - quase harmoniosa em termos de hoje - preparara-se a mudança de gosto: da música clássica para a música ligeira orquestrada. No final da década de 1960, um arguto jornalista, João Paulo Guerra, chamaria a esta produção de música ligeira de nacional-cançonetismo, matando o sonho de Ferro de elevar esteticamente a música ouvida pela população em geral e criar um novo gosto.
sábado, 3 de setembro de 2016
Adília Lopes ou a Zé vai à Sé (Z/S)
Ontem à tardinha, foi apresentado o livro de Adília Lopes, Z/S, por Maria Filomena Molder e com leitura de poemas por Ângela Correia, na livraria Leituria, à rua D. Estefânia (Lisboa).
O novo livro, editado com a chancela das edições Averno, tem poemas e pequenas histórias de Adília Lopes, nome literário de Maria José Oliveira, e aposta numa troca de letras em que o seu nome aparece com elemento central. Zèzinha, Zezinha (sem acento grave) ou apenas Zé pode jogar com Sé: a Zé vai à Sé (Z/S). Uma homenagem explícita a Roland Barthes, como foi acentuado na apresentação.
Por vezes, os textos são de uma simplicidade desarmante ("Temos a cara / que nos deixam ter", p. 65). Outras vezes, jogam com as palavras e os sentidos, mas de uma grande sensibilidade ("Sabonetes e sorvetes / têm as mesmas cores / os sabores contrários", p. 85) . Ou desconcertantes ("Muitas pessoas o melhor que andaram a fazer neste mundo foi cocó", p. 55). Ou remetem para outras histórias, quiçá do vocabulário político recorrente ("Passei a vida a correr riscos e a fazer riscos. Não havia plano B", p. 50). E ainda o recurso a histórias que envolviam a mãe, bióloga, que dizia que "o que mata baratas mata pessoas": "As pessoas estúpidas é que têm a mania que são feitas de massa especial. Mais vale baratas que DDT. Faz menos cancros" (p. 24).
Com frequência, brejeira (não se diz pornográfica), a sua poesia e prosa lembram o surrealismo. Ou um novo surrealismo carregado de simbolismo. É ainda uma poetisa que se pode considerar com sabedoria local - diversos textos situam histórias em Arroios, a freguesia lisboeta onde ela mora e convive com gente letrada mas também com sem-abrigo. Como no poema sobre a planta que esmaga na sua mão e diz ser lavanda. Alfazema, corrige a sem-abrigo Dona Elisabete, habitante errante do jardim junto à igreja de Arroios.
Capa (e marcador) de Luís Henriques e arranjo gráfico de Pedro Santos.
sexta-feira, 2 de setembro de 2016
O que se passa no Museu Nacional de Arte Antiga?
António Filipe Pimentel, diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, disse hoje que pode ocorrer uma calamidade no museu muito proximamente: "quando acontecer, abre os telejornais" e "aquilo vai partir e vai partir em muito pouco tempo". O museu tem 82 salas abertas e 64 funcionários. A nova galeria de pintura e escultura portuguesa, inaugurada há pouco mais de um mês por Marcelo Rebelo de Sousa, só não fechou no dia seguinte pelo forte impacto político que teria.
O responsável do museu não especificou o problema mas o local onde o disse - na escola de quadros do CDS-PP, a decorrer até domingo - tem significado político considerável. O governo tem na mão um projeto-lei a aplicar ao museu, mas não parece querer avançar, ao passo que ele viu com muito gosto o programa do último governo PSD-CDS sobre autonomia e ampliação do museu.
Atualização: entretanto, o ministro Luís Castro Mendes, que se encontrou a semana passada com o diretor do museu em reunião normal de trabalho, achou estranhas as declarações deste e disse estar a avançar um processo que envolve diversas instituições culturais do país, mas não as precisou.
O responsável do museu não especificou o problema mas o local onde o disse - na escola de quadros do CDS-PP, a decorrer até domingo - tem significado político considerável. O governo tem na mão um projeto-lei a aplicar ao museu, mas não parece querer avançar, ao passo que ele viu com muito gosto o programa do último governo PSD-CDS sobre autonomia e ampliação do museu.
Atualização: entretanto, o ministro Luís Castro Mendes, que se encontrou a semana passada com o diretor do museu em reunião normal de trabalho, achou estranhas as declarações deste e disse estar a avançar um processo que envolve diversas instituições culturais do país, mas não as precisou.
quinta-feira, 1 de setembro de 2016
O fim do gratuito Metro
A partir da próxima segunda-feira, 5 de setembro, o jornal gratuito Metro deixa de ser publicado. Edição portuguesa trazida em dezembro de 2004 pela editora sueca Metro Internacional e grupo Media Capital, foi comprada pela Cofina em 2009. A edição do Porto existe desde 2005. Agora, a Cofina indica as dificuldades económicas como a única razão para o seu desaparecimento.
É interessante notar que os otimistas de 2004 e anos seguintes diziam que os jornais gratuitos, incluindo o Destak e outros jornais ligados a grupos de media mas efémeros na sua existência, significavam que os portugueses estavam a ler mais jornais, o que os aproximaria da média europeia. Tal representaria também uma evolução do mercado face aos jornais mais clássicos e de venda em banca. A realidade sombria da última década (menos títulos sérios, mais informação sensacionalista) desemboca agora no desaparecimento do mais emblemático título gratuito.
Não sei se a confiança (maior ou menor) nos media, como a notícia que reportei há pouco, melhora (ou diminui) com este tipo de notícias. Sei que menos títulos representam menos possibilidades de alternativas informativas, com as possíveis cargas de manipulação e distorção da opinião pública.
É interessante notar que os otimistas de 2004 e anos seguintes diziam que os jornais gratuitos, incluindo o Destak e outros jornais ligados a grupos de media mas efémeros na sua existência, significavam que os portugueses estavam a ler mais jornais, o que os aproximaria da média europeia. Tal representaria também uma evolução do mercado face aos jornais mais clássicos e de venda em banca. A realidade sombria da última década (menos títulos sérios, mais informação sensacionalista) desemboca agora no desaparecimento do mais emblemático título gratuito.
Não sei se a confiança (maior ou menor) nos media, como a notícia que reportei há pouco, melhora (ou diminui) com este tipo de notícias. Sei que menos títulos representam menos possibilidades de alternativas informativas, com as possíveis cargas de manipulação e distorção da opinião pública.
Saída de Luís Marinho da RTP
A Lusa divulgou uma carta de despedida de Luís Marinho da RTP, empresa onde trabalhou durante 15 anos. Entre os cargos desempenhados, ele foi administrador e diretor-geral de conteúdos, director de estratégia de grelha e director de informação da RTP, exercendo recentemente o lugar de responsável pelo gabinete de projectos especiais.
Marinho critica em especial a governação criada pelo anterior ministro Poiares Maduro, com o surgimento do Conselho Geral Independente (CGI), órgão de supervisão do Conselho de Administração da RTP, e responsável pela demissão do anterior Conselho de Administração, liderado por Alberto da Ponte. Na carta, escreve que, "do ponto de vista organizativo, a RTP é hoje uma empresa dos anos 80 do século passado, com direções para todos os gostos, a que se juntam ainda mais diretores disfarçados de consultores".
Nos dias mais recentes, rebentara uma polémica com a admissão como diretor de André Macedo, até agora diretor do Diário de Notícias. Macedo fora um aceso crítico da RTP, considerando em textos que já não se justificava a existência de um serviço público de rádio e de televisão.
Marinho critica em especial a governação criada pelo anterior ministro Poiares Maduro, com o surgimento do Conselho Geral Independente (CGI), órgão de supervisão do Conselho de Administração da RTP, e responsável pela demissão do anterior Conselho de Administração, liderado por Alberto da Ponte. Na carta, escreve que, "do ponto de vista organizativo, a RTP é hoje uma empresa dos anos 80 do século passado, com direções para todos os gostos, a que se juntam ainda mais diretores disfarçados de consultores".
Nos dias mais recentes, rebentara uma polémica com a admissão como diretor de André Macedo, até agora diretor do Diário de Notícias. Macedo fora um aceso crítico da RTP, considerando em textos que já não se justificava a existência de um serviço público de rádio e de televisão.
Subscrever:
Mensagens (Atom)